TRADIÇÃO REGIONAL E PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO: TENSÕES DA LITERATURA NO RIO GRANDE DO NORTE
Humberto Hermenegildo de Araújo*
1. Brasilidade e tradição local
Tomando-se como ponto de partida o fato de que o movimento modernista brasileiro problematizou e rearticulou todos os elementos implicados na formação do sistema literário nacional, e considerando que a partir da segunda metade da década de 20 ocorreu uma descentralização desse movimento, é possível pesquisar sobre o modo como se deu, nas suas manifestações regionais e nas suas implicações sociais, o processo literário brasileiro posterior ao chamado modernismo paulista. Particularmente na região Nordeste, as idéias modernistas e a pregação generalizada do Regionalismo geraram, de forma complexa, produções literárias que refletem as propostas debatidas: a forma literária moderna atualiza, na maioria dos casos, a temática regional que, em princípio, não seria moderna. Seja o caso deste poema de Jorge Fernandes, poeta natalense que publicou um único livro em 1927:
REDE...[1]
Embaladora do sono...
Balanço dos alpendres e dos ranchos...
Vai e vem nas modinhas langorosas...
Vai e vem de embalos e canções...
Professora de violões...
Tipóia dos amores nordestinos...
Grande... larga e forte... pra casais...
Berço de grande raça
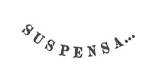
Guardadora de sonhos...
Pra madorna ao meio-dia...
Grande... côncava...
Lá no fundo dorme um bichinho...
— ô...ô...ô...ôô...ôôôôôôôôô...
— Balança o punho da rede pro menino durmir...
Tomando a rede como símbolo de brasilidade, o poeta investe no elemento regional armando-a nos “alpendres” e nos “ranchos” onde se vivem amores “nordestinos”. Tem-se, portanto, um quadro regional que não deixa de lembrar um clássico da brasilidade com raiz no romantismo: a imagem da rede como um “Vai e vem nas modinhas langorosas.../Vai e vem de embalos e canções...” sugere o quadro romântico do poema “Adormecida”, de Castro Alves[2]. Poderíamos investir mais nesta comparação para concluir sobre o modo como, no poema de Jorge Fernandes, superam-se os impasses românticos[3] e ganha presença uma criança que é fruto de amores consumados na “Tipóia”, esta, como símbolo de valores ancestrais (indígenas) que se atualizam para a representação da “grande raça”.
Ao mesmo tempo, o poeta carrega tintas regionais para dar vida ao quadro representado quando, tornando visíveis as marcas da oralidade, conclui a cena com a espontaneidade da fala: a criança é “bichinho” que deve “durmir” embalado pela melodia do “ô...ô...ô...ôô... ôôôôôôôôô...”.
Seria este, pois, um poema que representaria o registro da “brasilidade... nordestina”, como a definiu Neroaldo Pontes de Azevêdo ao se referir à poesia de Ascenso Ferreira (cf. AZEVÊDO, 1984). Contudo, além de estabelecer tais relações, o poeta investe num experimentalismo formal praticamente inédito no Nordeste, naqueles anos[4], dando à imagem da rede um valor semântico que supera de muito a ousadia formal: “suspensa”, não é só a rede, é também a “grande raça” que “sonha”. Nesta ambigüidade, o valor porventura nostálgico que entrevê sobreposto à cena nordestina o quadro romântico da virgem adormecida, de Castro Alves, obnubila-se ante uma imagem que pode ser relacionada a outro valor, que chamamos de utópico: trata-se da representação de uma “raça” que, surrealisticamente, antecipa-se na sua posição “suspensa” à posição assumida por Macunaíma quando este se transforma na constelação da Ursa Maior. Mário de Andrade, diga-se de passagem, conheceu o poeta e o poema na sua passagem por Natal, naqueles anos modernistas, conforme se verifica nos relatos de O turista aprendiz (ANDRADE, 1983).
Esta lição de brasilidade pode ter produzido efeitos na personagem principal de divulgação do modernismo no Rio Grande do Norte, Luís da Câmara Cascudo. Acreditamos que está na deixa do poeta modernista a gênese de um dos mais singulares livros de Câmara Cascudo, Rede de Dormir (1959)[5]. Nesta direção, é ainda o poeta Jorge Fernandes quem indica um caminho de leitura para a compreensão do desejo dos potiguares no sentido de afirmação de uma tradição local — desejo que se materializa em várias tentativas de sistematização da produção local: os livros Alma patrícia (1921), de Câmara Cascudo; Poetas do Rio Grande do Norte (1922), antologia organizada por Ezequiel Wanderley; Ensaios de crítica e literatura (1923), de Armando Seabra; produções antecedidas por uma série de artigos publicados por Henrique Castriciano sobre a poesia de Lourival Açucena no jornal A República, em 1907. O poema que abre o livro de Jorge Fernandes é sintomático dessa busca:
REMANESCENTE
Sou como antigos poetas natalenses
Ao ver o luar por sobre as dunas...
Onde estão as falanges desses mortos?
E as cordas dos violões que eles vibraram?
— Passaram...
E a lua deles ainda resplandece
Por sobre a terra que os tragou
E a terra ficou
E eles passaram!
E as namoradas deles?
E as namoradas?
São espectros de sonhos...
Foram braços roliços que passaram!
Foram olhos fatais que se fecharam!
Ah! Eu sou a remanescença dos poetas
Que morreram cantando...
Que morreram lutando...
Talvez na guerra contra o Paraguay!
A imagem dos antigos seresteiros natalenses, emoldurada pelo luar e pelas dunas que cercam a cidade, aparece como tradição poética local, raiz onde se fixa a identidade do poeta, voz lírica que ressoa encoberta num véu saudoso. Contudo, no conjunto do livro de Jorge Fernandes, esse valor saudosista se integra à pesquisa do elemento local como um modo de atingir os objetivos de definição da brasilidade modernista. Valor que, em princípio, não iria ao encontro do projeto modernista da semana de 22. Um localismo que, ao mesmo tempo, não significava regionalismo.
Segundo AZEVÊDO (1984), quando o movimento modernista encaminhou-se na direção do nacionalismo poderia ter havido em encontro, no contexto da região Nordeste, do Modernismo com o Regionalismo, uma vez que seria a realidade local a fornecedora dos conteúdos "brasileiros". No entanto, ainda segundo AZEVÊDO (1984), a perspectiva regionalista, estática (pois não havia a preocupação de extrair a essência brasileira do passado e dinamizá-lo no presente e no futuro), e a posição teórica dos modernistas, dinâmica (no sentido de extrair do passado o que houvesse de "essencialmente brasileiro", para retomar a tarefa de criação, no presente, da arte brasileira), impossibilitaram esse encontro — as duas tendências tinham posturas diferentes. A obra de Câmara Cascudo, não obstante, passou ao largo da polêmica Modernismo/Regionalismo, concentrada em Pernambuco, obviamente ocasionada pela força da tradição conservadora que enfrentava os interesses mais imediatos da modernização. Despregado de uma base sólida, Câmara Cascudo adquiriu a agilidade moderna e tentou, com ela, dar movimento à tradição que se formava no Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, conferir aos resquícios de tradição existentes um valor positivo e articulado ao discurso modernista.
Para a realidade das duas primeiras décadas do século XX, em que Modernismo, brasilidade e Regionalismo se encontravam de formas, muitas vezes, as mais disparatadas, a poesia de Jorge Fernandes e os escritos de Câmara Cascudo agradavam ao discurso modernista[6].
Já nos últimos anos da década de 20, Mário de Andrade viajou ao Nordeste, marcando uma nova fase de intercâmbios e influências recíprocas, e promovendo uma divulgação direta do Modernismo. Na viagem, Mário de Andrade chega, inclusive, a conhecer o sertão potiguar em viagem realizada com Antônio Bento de Araújo Lima e Câmara Cascudo, em janeiro de 1929. De volta a Natal Câmara Cascudo, e de volta ao Sul do país Mário de Andrade e Antônio Bento, ficariam a experiência e o hábito modernistas como que justapostos à experiência anterior de Câmara Cascudo naquela região — entre os anos 1910 e 1914, quando, por recomendação médica, passara uma temporada no sertão, conforme se verifica em relatos publicados nos livros Vaqueiros e cantadores (1939) e Folclore do Brasil (1967). As informações sobre a viagem referida neste parágrafo, ao Nordeste, estão registradas em O turista aprendiz (1983). Com essas duas marcantes experiências, e o desejo de conhecer o país, Câmara Cascudo voltaria muitas vezes ao lugar privilegiado para o encontro de seu ideal de cultura: o sertão seria a fonte básica de pesquisa sobre a tradição que o ensaísta enfocado perseguiu durante toda a vida. Boa parte dos seus livros surgiram dessa preocupação, embora tenham adquirido um caráter de universalidade.
Com matriz geradora no cerne do movimento modernista brasileiro, como o define CANDIDO (1980), a obra cascudiana permite a verificação de um modo de continuidade da problemática modernista sobre a brasilidade. É possível verificar, por exemplo, na trajetória intelectual do autor, a verticalização da pesquisa em fontes da oralidade, tomando como ponto de partida os indicativos de Mário de Andrade sobre a importância da figura do Boi na cultura nacional (Cf. LOPEZ, 1972). Daí, o surgimento do principal título da década de 30, de Câmara Cascudo: Vaqueiros e cantadores. Com a leitura desta obra, problematiza-se o modo de construção literária caracterizado pela apropriação dos dados da cultura brasileira, com inserções modernistas, cujo resultado significa uma visão do Brasil singularizado nas marcas da oralidade presentes na escrita cascudiana.
2. Para uma leitura de Vaqueiros e cantadores[7]
Parte-se de uma discussão sobre a produção cultural da década de 30, com o objetivo de analisar, através da leitura da obra cascudiana, a permanência de temas e tensões dominantes na literatura brasileira, ao longo da referida década, de modo a caracterizar conjunturas nas quais as tradições regionais interagem no processo de construção do sentido do “moderno”.
Espera-se avançar no processo de conhecimento sobre a obra cascudiana e sobre a caracterização do movimento literário da década de 30, no Brasil, disponibilizando material reflexivo acerca da construção do conceito de “moderno” no contexto analisado. Os principais pontos abordados são: registros da literatura local, aspectos da literatura brasileira, modernização da cidade de Natal, questões de folclore e etnografia, observações sobre a cultura popular, considerando-se o escritor em questão como um moderno ensaísta. Esta pesquisa tem como aporte teórico os estudos desenvolvidos por Paul Zumthor (1993) sobre representações da oralidade na escrita; por Angel Rama (1976), Antonio Cornejo Polar (2000) e Antonio Candido (1980) sobre a heterogeneidade de registros literários latino-americanos, considerando-se as diferentes perspectivas sociais e críticas desses autores.
Estrategicamente, a leitura de Vaqueiros e cantadores surge como um divisor de águas da obra de Câmara Cascudo: posterior à experiência modernista (anos 20 e início dos anos 30, quando o autor manteve confirmadas afinidades temáticas com os modernistas, principalmente no que se refere ao princípio da brasilidade) e anterior à produção de Literatura oral (1952) e Dicionário do folclore brasileiro (1956). Esta classificação cronológica da obra permitirá estabelecer relações entre as etapas da sua produção intelectual, apontando para distinções entre os textos esparsos e os livros, assim como entre os gêneros textuais exercitados pelo ensaísta.
A pesquisa está atenta à identificação dos índices de oralidade, reveladores da presença de tradições ancestrais nos textos, e do seu aproveitamento estético pelo escritor, que apresentamos hipoteticamente como um agenciador de soluções literárias para o encontro (não dicotômico, mas integrativo) de tradições regionais e universais, populares, no texto moderno que, por sua vez, se anuncia enquanto produto de uma erudição.
Recuperar tais leituras para a discussão atual significa dar andamento, de forma continuada, a um projeto de estudo da história da literatura brasileira: não se trata, no caso, de um projeto de escritura de histórias das literaturas estaduais[8] ou regionais, e sim de um projeto de leitura dessas literaturas, com vistas a uma (re)leitura da(s) história(s) da literatura brasileira enquanto um sistema já consolidado e com uma tradição em processo, nos termos definidos por Antonio Candido em Formação da literatura Brasileira (1975); Literatura e sociedade (1980); A educação pela noite e outros ensaios (1987).
Tomando-se como ponto de partida o fato de que, durante a década de 30, as obras mais representativas da literatura brasileira caracterizaram-se por uma visão do Brasil singularizado em situações culturais típicas (cf. BOSI, 1988), cuja dominante construtiva era a da “cultura como inteligência histórica de toda a realidade brasileira presente” (BOSI, 1988, p. 123), pretende-se, neste projeto, estabelecer relações entre essa “dominante” (TINIANOV, 1978) e o modo de elaboração estética presente na obra de Luís da Câmara Cascudo, produzida ao longo da referida década. O problema a ser analisado consiste na rearticulação, durante a década de 30, dos elementos implicados no processo de construção literária através da apropriação dos dados da cultura brasileira. Se é um fato que o romance de 30, como demonstram os estudos realizados, caracterizou-se por esta problemática, permanece como um problema a ser analisado o fenômeno de obras que, não necessariamente “literárias”, foram construídas a partir das mesmas dominantes construtivas literárias em evidência no período da sua produção, como foi o caso da obra cascudiana.
Após estas considerações, é possível concluir afirmando que a trajetória de Câmara Cascudo começou através do estudo do processo formativo literário local, movido pelo desejo de construir uma tradição que respondesse ao processo de modernização social em curso no Rio Grande do Norte. Partindo da inserção tardia da literatura local no sistema nacional já formado, Câmara Cascudo levou adiante a tarefa de estudar, pela via da oralidade, uma tradição cultural que por um lado era recalcada pelo discurso acadêmico e oficialesco (conservador) e, por outro lado, era redescoberta pelo Modernismo como componente da nacionalidade (progressista). Essa tradição cultural foi valorizada, sobretudo, pela linha da brasilidade desenvolvida pelo movimento modernista que, nas várias regiões brasileiras, ganha força a partir de 1924, considerando-se o movimento desencadeado por Oswald de Andrade com Pau-Brasil. No Nordeste, destaca-se a divulgação empreendida por Joaquim Inojosa e a visita de Guilherme de Almeida. Dentre os vários registros históricos do movimento nas regiões, destacam-se: SANT'ANA (1980), AZEVÊDO (1984) e LEITE (1972).
3. Poesia e modernização
Foi neste intricado de contradições — e na tentativa de superá-las — que o movimento modernista chegou ao Nordeste. No que diz respeito à produção poética dos nordestinos, especificamente no período apontado, a compreensão de alguns elementos precedem, como informação, a compreensão do valor literário em si das suas obras: é interessante observar, por exemplo, que o momento em questão precede 1930, período em que aflorou de forma mais objetiva, na prosa de ficção, o mundo da experiência sertaneja. Mais do que preceder, este período é limite entre os anos propriamente modernistas e a década de 30, fato que pode ser relacionado a outros fatores que convergem para um determinado ponto de vista. Entre esses fatores, destacam-se, por um lado, a presença marcante do movimento regionalista nordestino (liderado por Gilberto Freyre) e, por outro lado, a introdução de elementos da modernidade na região Nordeste, estes últimos trazidos forçosamente pela modernização das capitais dos estados. Essa modernização, conflituosa em Recife — segundo AZEVÊDO (1984) e D’ANDREA (1993) —, apresentou-se de forma “comportada” (mas, nem por isso menos vigorosa) na capital do Rio Grande do Norte, cidade que não se apresentava como centro regional nem carregava marcas tradicionais de um passado colonial em suas ruas (à exceção da presença silenciosa do Forte dos Reis Magos assentado na barra do rio Potengi). Em Natal, a construção de novas avenidas, a chegada surpreendente de automóveis e aviões (sobretudo), como também a mudança de uma já frágil economia açucareira para a economia algodoeiro-pecuária não resultou em marcas profundas e reveladoras do conflito com o passado recente. A convivência da modernização com o atraso crônico, do capitalismo com o desequilíbrio, passa a ser um dado da estrutura social, fato que se revelaria de forma violenta apenas na década seguinte, através do episódio da “insurreição comunista de 1935”, segundo COSTA (1995).
O novo, que chegava, não significava necessariamente uma oposição ao velho, que permanecia. A novidade, que surgia como mito, parecia não se colocar como oposição ao dado local, mas terminava ameaçando-lhe a visibilidade. Mais uma vez, é o poeta Jorge Fernandes quem percebe o fenômeno, de forma irônica:
O BONDE NOVO
O bonde que inauguraram
É amarelo e muito claro...
Sua campa bate alegre e diferente das outras...
Os seus olhos vermelhos indicam Petrópolis...
Anda sempre cheio porque é novo...
Chega na balaustrada espia o mar...
E os passageiros todos nem olham pro mar...
Só vêem o bonde novo...
Só ouvem a campa nova...
Aquele bonde só devia sair aos domingos
Pois ele é a roupa domingueira
Da Repartição dos Serviços Urbanos...
A modernização que acontecia no Nordeste, concomitante ao auge da propaganda regionalista, é um traço característico para o entendimento da formação da nacionalidade na periferia. No caso nordestino, é mais evidente o descompasso entre o desejo de modernização e a sua implantação efetiva. Aqui também, a literatura dá um passo à frente ao revelar o conteúdo objetivo da sociedade, como se percebe na leitura dos poemas de Jorge Fernandes selecionados. Da mesma forma, seguindo a chamada “harmoniosa troca de serviços entre literatura e estudos sociais” (Cf. CANDIDO, 1980, p. 134), o ensaio desenvolvido por Câmara Cascudo envereda pelo movimento que permitiria o levantamento de dados de uma cultura popular que passaria a integrar, a partir de então, um acervo erudito com base em estudos sobre o folclore.
Ao fim, resta uma impressão que somente outras pesquisas poderão esclarecer: parece não ter caráter, porque brasileira, a tradição que se formava no Rio Grande do Norte, naqueles anos de conflito modernizador.
RESUMO: A Literatura Brasileira que se manifesta no Rio Grande do Norte apresenta-se, em várias tentativas de sistematização, como um desejo “norte-rio-grandense” ou “potiguar” no sentido de conferir ao estado uma tradição. Não obstante, os processos de modernização da sociedade têm determinado a descaracterização do dado localista desse processo. Para discutir esta problemática, faz-se necessário revisar a história da presença do movimento modernista nas regiões brasileiras, particularmente no Nordeste, onde o conflito modernizador pôs na ordem do dia a questão da brasilidade. Destaca-se, nesta discussão, a figura de Câmara Cascudo, sua participação no movimento modernista e os influxos desse movimento na sua obra.
PALAVRAS-CHAVE: Modernismo; Modernização; Regionalismo; Literatura local; Poesia modernista; Brasilidade; Tradição.
ABSTRACT: REGIONAL TRADITION AND PROCESS OF MODERNIZATION: TENSIONS OF LITERATURE IN RIO GRANDE DO NORTE
The Brazilian Literature that occurs in Rio Grande do Norte is presented, in a few tentative of systematization, as a local or "potiguar" desire in a sense to confer a tradition to the state. Despite this, the processes of modernization of the society have determined the weakness of the local aspect of this process. To argue this problematic, it is necessary to revise the history of the presence of the modernistic movement in the Brazilian regions, particularly in the Northeast of Brazil, where the modernistic conflict put in the order of the day the question of the “brasilidade”. We distinguished, in this discussion, the personality of Câmara Cascudo, his participation in the modernistic movement and the influxes of this movement in his work.
KEYWORDS: Modernism; Modernization; Regionalism; Local Literature; Modernist poetry; “Brasilidade”; Tradition.
Referências Bibliográficas:
ALVES, Castro. Espumas flutuantes. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
ANDRADE, Mário de. Cartas de Mário de Andrade a Luís da Câmara Cascudo. Introdução e notas de Veríssimo de Melo. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1991. p. 66.
. O turista aprendiz. Estabelecimento de texto, Introdução e Notas de Telê Porto Ancona Lopez. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
. Livros. Diário Nacional, São Paulo, 15 abril 1928, p. 11.
. Vaqueiros e cantadores. In: . O empalhador de passarinho. 3. ed. São Paulo; Brasília: Martins; Instituto Nacional do Livro, 1972. p. 191-194.
ARAÚJO, Humberto Hermenegildo de. Asas de Sófia: ensaios cascudianos. Natal: SESI; FIERN, 1998.
AZEVÊDO, Neroaldo Pontes de. Modernismo e regionalismo: os anos 20 em Pernambuco. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba, 1984.
BOSI, Alfredo. Céu, inferno: ensaios de crítica literária e ideologia. São Paulo: Ática, 1988.
CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura: de 1900 a 1945. In: . Literatura e sociedade. 6. Ed. Rio de Janeiro: Ed. Nacional, 1980. p.109-138.
. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 5. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo, 1975.
. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores: folclore poético do sertão de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 3. ed. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; Ed. da Universidade de São Paulo, 1984. 328p. (Reconquista do Brasil, Nova Série – 81. 1. ed. 1937).
CASTELLO, José. Benedito Nunes ensina o caminho de volta. Disponível em www.secrel.com.br/jpoesia/castel06.html. Acesso em: 13 nov. 2004.
COSTA, Homero de Oliveira. A insurreição comunista de 1935: Natal, o primeiro ato da tragédia. São Paulo: Ensaio; Natal: Cooperativa Cultural Universitária do Rio Grande do Norte, 1995.
FERNANDES, Jorge. Livro de poemas de Jorge Fernandes. Edição fac-similar de 1927. Natal: Fundação José Augusto, 1997.
D’ANDREA, Moema Selma. A cidade poética de Joaquim Cardozo: elegia de uma modernidade. Tese (Doutoramento em Teoria Literária) — Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP, 1993.
LEITE, Lígia Chiappini Moraes. Modernismo no Rio Grande do Sul: materiais para seu estudo. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1972.
LOPEZ, Telê Porto Ancona. Mário de Andrade: ramais e caminho. São Paulo: Duas Cidades, 1972.
POLAR, Antonio Cornejo. O condor voa: literatura e cultura latino-americanas. Organização de Mário J. Valdés; Tradução de Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000.
RAMA, Angel. Los gauchipoliticos rioplatenses: literatura e sociedade. Buenos Aires: Calicanto, 1976.
SANT’ANA, Moacir Medeiros de. História do modernismo em Alagoas: 1922-1932. Maceió: EDUPAL, 1980.
TINIANOV, J.. Da evolução literária. In: TOLEDO, Dionísio (Org.). Teoria da literatura: formalistas russos. 4. ed. Tradução de Ana Maria Ribeiro Filipouski [et.al]. Porto Alegre: Globo, 1978. p. 105-118.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: a “literatura” medieval. Tradução de Amálio Pinheiro e Jerusa Pires Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
* Professor de Literatura Brasileira da UFRN.
[1] Madorna — de modorra, por dissimilação: cochilo, moleza, preguiça, soneira, sonolência (NDLP); durmir — dormir.
[2]Do livro Espumas flutuantes. Cito a primeira estrofe: “Uma noite, eu me lembro...Ela dormia / Numa rede encostada molemente... / Quase aberto o roupão... solto o cabelo / E pé descalço do tapete rente.”
[3] Refiro-me ao distanciamento entre o eu-lírico e a mulher, problema que é resolvido, no poema de Castro Alves, através da personificação da natureza.
[4] A visualidade foi inaugurada, na província, através de um poema de autoria do mais cosmopolita dos seus intelectuais, Câmara Cascudo, que publicou “Não gosto de sertão verde” na revista paulista Nossa terra & outras terras (Ano I, n. 6, 6 jul 1926, p. 4). No entanto, a leitura que o autor de Paulicéia desvairada fez do poema foi desanimadora para Cascudo, no que se refere ao experimentalismo formal, conforme se pode verificar no seguinte trecho de carta enviada por Mário de Andrade em 22 de julho de 1926: “... sim: recebi cartas versos revistas, recebi e li tudo, adorei tanto o Não Gosto de Sertão Verde (...). Aconselho apenas escrever aquelas palavras escorre lento e a outra que não me lembro agora, naturalmente em horizontal. Essas ideografias em verdade são falsas e também caí nelas e errei. Na verdade não dizem nada mais do que a imaginação do leitor inteligente bota de si no poema” (ANDRADE, 1991, p. 66).
[5] Cf. a respeito o capítulo “Uma rede armada no universo”, do nosso estudo Asas de sófia:ensaios cascudianos (1998).
[6] Aspecto presente na correspondência de Mário de Andrade, na qual comenta livros como Histórias que o tempo leva (1924) e Vaqueiros e cantadores (1939), de Câmara Cascudo (cf. ANDRADE, 1991); assim como na sua recepção da poesia de Jorge Fernandes (cf. ANDRADE, 1928). Muitas das “impressões” do escritor paulista sobre os potiguares estão registradas em O turista aprendiz (1983). Especificamente sobre Vaqueiros e cantadores, cf. ANDRADE (1972).
[7] Apresento, a seguir, um resumo de projeto de pesquisa “Tradição regional e literatura moderna: representações na obra de Câmara Cascudo”, desenvolvido junto à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN..
[8] Sobre o termo “Literatura do Rio Grande do Norte”, adotamos a sábia lição de Benedito Nunes ao se referir à literatura da Amazônia em entrevista concedida a José Castello: “(...) Prefiro falar, por exemplo, em uma literatura ‘da Amazônia’ e não em literatura ‘amazônica’, denominação que inclui uma perspectiva regionalista. Ao falar em literatura da ‘Amazônia’, estou me referindo apenas a uma origem, uma procedência e nada além disso” (cf. CASTELLO, 2004), .