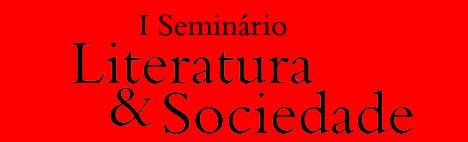LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
Resumos
Machado de Assis e
Lima Barreto: da
ironia
à
sátira
Álvaro Marins (alvaro_marins@yahoo.com.br)
Durante
muito
tempo,
na
percepção
crítica
de nossas
letras,
sobreviveu, e
ainda
hoje
sobrevive, a
idéia
de
que
Machado
de Assis e
Lima
Barreto seriam
antagônicos.
Indo
mais
além,
e considerando o
imaginário
de
nossa
intelectualidade
de uma
maneira
bastante
ampla,
o
senso
comum
de
que
Machado
de Assis seria o
escritor
oficial
e
Lima
Barreto, o
maldito,
continua
sólido
e, pode-se
dizer,
pouco
questionado.
O
antagonismo
também
se deve ao
fato
de
que
as primeiras
tentativas
de
aproximação
feitas
pela
crítica
na
primeira
metade
do
século
XX opuseram os
dois
escritores
em
termos
de
estilo:
o
primeiro
seria
mais
correto
e o
segundo
mais
“desleixado”.
Por
outro
lado,
os
defensores
do
autor
de Policarpo
Quaresma
adotaram
como
estratégia
para
sua
valorização
bater
na
tecla
da
suposta
ausência
de negritude
em
Machado,
proclamando,
em
contrapartida,
o
posicionamento
explícito
de
Lima
Barreto nessa
questão.
Argumentavam,
por
exemplo,
que
Machado,
sendo
um
mulato,
e vivendo
em
pleno
período
abolicionista,
não
engajou
sua
literatura
nessa
campanha.
Ao
final
do
século
XX,
entretanto,
nota-se uma
mudança
de
rumo
nas
metodologias
críticas
dos
estudiosos
e
hoje
é
possível
fazer
uma releitura dos
dois
autores
com
base
em
novos
paradigmas
críticos.
Álvaro Marins é
doutor
em
Teoria
Literária
e
mestre
em
Literatura
Comparada
pela
UFRJ.
Professor
adjunto
de
Literatura
Brasileira
e de
Teoria
Literária
do
Centro
Universitário
da
Cidade.
Autor
de
Machado
de Assis e
Lima
Barreto: da
ironia
à
sátira
é
também
o
organizador,
junto
com
Fred Góes, do
volume
Melhores
poemas
de Paulo Leminski.
O
sentido
social
da
forma
literária
André Bueno (bueno_andre@ig.com.br)
O
trabalho
consiste numa
abordagem
resumida da
relação
literatura
e
sociedade,
texto
e
contexto,
forma
literária
e
processo
social,
tendo
como
centro
da
análise
os
problemas,
simétricos e
complementares,
das reduções entendidas
como
formalismo
e
sociologismo.
De
um
lado,
o
texto
entendido
como
realidade
formal
em
si
mesmo,
sem
vínculos
com
referentes
externos.
De
outro,
o
texto
pensado
apenas
como
parte
de
um
contexto
social
e
histórico,
sem
levar
em
conta
sua
dimensão
formal
e a
construção
de
sua
estrutura.
No
vértice
do
assunto,
a
categoria
crucial
da mediação
estética,
que
permite
pensar
relações
dialéticas
entre
literatura
e
sociedade,
texto
e
contexto,
forma
literária
e
processo
social.
Tendo
sempre
em
vista
o
senso
cuidadoso
das mediações, é
possível
evitar
as reduções
que
pendem
ora
para
o
texto,
ora
para
o
contexto,
superando
assim
o
que
pode
ser
entendido
como
um
falso
problema.
Por
extensão,
o
argumento
sustenta
que
a
ponta
avançada
da
literatura
não
precisa
estar
nos
textos
que
propõem
rupturas
ostensivas e
que
enfatizam o
tempo
todo
sua
consciência
da
linguagem
e dos
artifícios
da
criação
literária,
como
que
isolando a
literatura
de
qualquer
realidade
externa.
No
outro
extremo,
argumenta-se
que
a
defesa
enfática da
consciência
social,
das
causas
políticas
em
sua
evidência
mais
próxima,
marcando a
presença
ideológica
ostensiva
do
autor
em
sua
obra,
não
representa
garantia
de
literatura
mediada e
bem
elaborada.
André Bueno é
mestre
em
Literatura
Brasileira
pela
PUC -
Rio
(1979),
doutor
em
Teoria
Literária
pela
UFRJ (1987),
pesquisador
do CNPq,
professor
de
Teoria
Literária
e
Literatura
Comparada na
faculdade
de
Letras
da UFRJ,
consultor
científico
do CNPq, Capes, SESU-MEC, Faperj e UFRJ. Publicações
recentes:
Pássaro
de
fogo
no
Terceiro
mundo
- o
poeta
Torquato
Neto
e
sua
época (Rio:7
Letras,
2005);
Formas
da
crise
-
estudos
de
literatura,
cultura
e
sociedade (Rio:Graphia
Editorial,
2002); O
mosaico da
memória
(revista
Terceira
Margem, 2005);
Memórias do
futuro -
mitos do Brasil
moderno
(Nação-invenção:
ensaios
sobre
o
nacional
em
tempos
de
globalização,
Rio:Contracapa,
2004).
A
letra da
canção
e a
letra
do
poema
André Gardel (agardel@msm.com.br)
Desbordar
do
âmbito
das
oposições
e
hierarquias,
dos
preconceitos
e das camisas-de-força de
projetos
estético-ideológicos, as
reflexões
sobre
as
aproximações
e
fugas
entre
a
poesia
cantada
e a
escrita.
Deslocar
a
questão para
o
campo,
nem
por
isso
menos
minado, da
cultura. A
criação
poética,
a
experiência
artística
no
mundo
contemporâneo
pensada em
termos
de
atividade
extraordinária/
ordinária,
comum
a
todo
o
processo
de
construção
da
sociedade
e de
arte
social
esteticamente interessada/
desinteressada.
André Gardel é
poeta,
compositor
de
música
popular
e
doutor
em
Literatura
Comparada
pela
UFRJ. Publicou os
seguintes
livros
de
poesia: ...e o
diabo a
quatro
(1991), Abre o
azul
(2000) e
Poemas
de
Nova
York (2002).
Sua
dissertação
de
mestrado,
O
encontro
entre
Bandeira &
Sinhô,
foi vencedora do
Prêmio
Carioca
de
Monografia
de 1995, editada no
ano
seguinte
pela
Secretaria
de
Cultura
do RJ. Publicou
pelo
Arquivo
Geral
da
Cidade
a
biografia
de Vinicius de
Moraes:
Vinicius,
poeta do
encontro
(2001). Lançou
ainda,
de
modo
independente,
o CD
Sons
do
poema (1997).
Em 2006 lançará
seu
segundo CD: O
vôo
da
cidade; e o
seu
quarto
livro
de
poesias:
A
letra do
poema.
Escreve
resenhas
sobre
poesia
e
música
popular
para
o
suplemento
Idéias do
Jornal do Brasil. É
professor de
Literatura
Brasileira, Portuguesa e
Dramática
da UniverCidade.
Laudelim Pulgapé, o
cancionista
do
sertão
André Vinícius
Pessoa
(andreviniciuspessoa@hotmail.com)
No
conto
Recado do
Morro,
de João Guimarães
Rosa,
que pertence
ao
Corpo
de
Baile, o
personagem andarilho
Laudelim Pulgapé,
com
suas
canções,
traz
em
si
a
experiência
arcaica
dos aedos. Diz Jaa Torrano
que
os aedos, poetas-cantores da
antiga
Grécia, representavam “o
máximo
poder
de
tecnologia
da
comunicação”.
Violeiro
virtuose
que
tem
sua
arte
reconhecida
com
honras
pelos
que
professam o
linguajar
dominante,
Laudelim Pulgapé carrega
traços
de
um
discurso
tradicional e
inteiramente
compatibilizado
com
o
seu
tempo.
O
cancionista
do
sertão,
diz o narrador, é
merecedor
de
um
“florão
de cantador-mestre”.
Sua
mais
nova
composição,
apresentada no
conto
é o
próprio
recado
do
morro
- destinado ao
protagonista
Pedro Orósio - em
forma
de
canção.
No
enredar
de
seus versos,
são
sintetizados
elementos
dispersos
encontrados ao
longo
da
narrativa,
que
antes
eram
obscuramente
captados e transmitidos
por
personagens
marginais,
viventes
de uma
dimensão
poética
e
originária.
André Vinícius Pessôa é
poeta,
músico,
jornalista (formado
pela PUC-Rio) e mestrando
em
Ciência
da
Literatura
na UFRJ.
O
popular
e o
erudito
-
Ariano
Suassuna e
suas
dualidades
Anna Paula
Lemos (annapaulalemos@gmail.com)
O
popular e o
erudito caminham
lado a
lado e representam uma dualidade
que
se
mostra
em
movimento
constante
em
toda
a
obra
de
Ariano
Suassuna. No
Romance
da
Pedra
do
Reino
e o
príncipe
do
sangue
do vai e
volta
que,
segundo
ele, é uma
síntese de
tudo o
que fez e pensou
até
agora, a dualidade está
inclusive na
própria
imagem
da
Pedra
-
dois
rochedos
gêmeos
da
região
da
Pedra
Bonita,
divisa
de Pernambuco e Paraíba, no
meio
árido
do
sertão
do Cariri.
Durante
todo
o
romance,
contado de
forma
epopéica
pelo
narrador
Dom
Pedro Diniz Quaderna, é
possível
observar
também
outras dualidades,
não
menos
interligadas: o Brasil
Real
e o Brasil
Oficial,
o
sagrado
e o
profano,
o
arcaico
e o
moderno,
a
literatura
oral
e a
escrita,
o
local
e o
universal.
Do
ponto
de
vista
do
Castelo
Poético, da
cegueira
alegórica e
dialética
do narrador Quaderna. Da
vida
como
um
picadeiro
do
circo.
Da estetização da
morte
como
força,
como
vontade
de
imortalidade
e de
ressurreição.
Mesmo
que
essa
força
não
mude a
pedra
de
posição
efetivamente,
mesmo
que
seja
inútil,
a
ação
de
força,
a
pura
e
simples
intenção
da
ação
é
necessária
para
a
vida
dessa
cultura
popular
que
Suassuna,
um
erudito,
defende
diante
da modernidade.
Anna Paula Lemos
é
jornalista,
produtora cultural e
mestranda
em
Literatura
Comparada
pela
UFRJ.
Modernização às
avessas:
o
caso
da Argentina
Ary Pimentel (UFRJ)
Um
projeto
de
nação
baseado
na
negação
do
outro,
os
modelos
de
civilização
dominantes
na
construção
do
cenário
moderno
na
periferia,
a
incursão
à
periferia
da
periferia
e a
cartografia
cultural da
cidade.
Estes
são
alguns
dos
temas
que
pretendemos
pensar
a
partir
de
um
olhar
sobre
Adán Buenos Aires, de Leopoldo
Marechal,
uma das
mais
importantes
narrativas
que
encenam no
espaço
literário
as
tensões
do
processo
de modernização
tardio
e
excludente
da Argentina.
Doutor
em
Literatura
Comparada
pela
UFRJ,
com
a
Tese
Literatura,
imagem
&
ação:
intelectuais
massas
e
poder
no
discurso
cultural argentino,
e
Professor
Adjunto
de
Literaturas
Hispano-Americanas na
Faculdade
de
Letras
da
mesma
universidade.
Desenvolve
atualmente
o
projeto
de
pesquisa
intitulado “Imagens
do
mundo
do
Outro”.
É
autor
de
diversos
artigos
em
revistas,
entre
os
quais
“A
invasão
do
labirinto:
a
casa
e a
cidade
na
literatura
Argentina” (Hispanismo 2002. Vol. II –
Literatura
Hispano-Americana.
São
Paulo: ABH, Humanitas, 2004, p. 103-112.).
Grande
sertão:
veredas
–
um
grande
romance
e
alguns
impasses
para a
crítica
Danielle
Corpas (danielle.corpas@terra.com.br)
É
consenso
conhecido
até
por
quem
nunca leu
Grande
sertão:
veredas
que
o
romance
de Guimarães
Rosa
constitui
um
dos
mais
altos
momentos
da
literatura
em
língua
portuguesa. Os
críticos
não
se cansam de coroá-lo
com
elogios,
sendo
um
dos
mais
freqüentes
–
talvez
o
mais
freqüente
–
sua
caracterização
como
grande-obra-estética-que-se-abre-às-mais-diversas-possibilidades-de-leitura.
Em
meio
a essa
euforia
geral,
50
anos
depois
do
lançamento
do
livro,
subjazem
alguns
impasses
interpretativos
referentes
à
relação
entre
a
narrativa
de Riobaldo e a
extensão
(e as
tensões)
da
matéria
histórica
plasmada nela.
Que
o
grande
sertão
não
é
só
uma
região
geográfica
delimitada,
já
sabemos há
muito
tempo.
Mas
qual
é o
acúmulo
crítico
de
que
dispomos
para
discutir
o
peso
que
têm na
configuração
estética
as
particularidades
de
processos
sociais
vividos
neste
país?
A
passagem
do
sertão
ao
mundo,
como
perguntou
certa
vez
José Antônio
Pasta
Jr., é
imediata
ou
“passa
por
uma mediação
essencial,
que
é o Brasil”?
Como
a
crítica
literária
brasileira
tem lidado
com
esse
questionamento?
Como
tem
operado
com
as
formas
de uma
experiência
social
específica
ao
tratar
de
um
texto
encharcado de
misticismo
universalizante?
São
essas as
perguntas
que
se colocam no
horizonte
deste
trabalho.
Danielle Corpas é
mestre
em
Literatura
Comparada
pela
UFRJ. Integra o
Grupo
Formação.
Foi
editora
da
revista
Range
Rede
e professora
substituta
dos
departamentos
de
Ciência
da
Literatura
da UFRJ e de
Literatura
Brasileira
e
Teoria
Literária
da UERJ.
Atualmente,
é
doutoranda
em
Teoria
Literária
na UFRJ e redige
tese
a
respeito
da
crítica
de
Grande
sertão:
veredas.
Cultura
popular,
identidade
e
memória.
Em
cena: o
teatro
brasileiro dos
anos 90.
Denise
Espírito
Santo
(deniseespirito@uol.com.br)
Este
texto
se propõe
refletir
sobre
as
montagens
teatrais
brasileiras,
que,
nas duas últimas
décadas
do
século
XX, orientaram-se
por
um
teatro
de
fontes
populares,
servindo,
em
justa
medida,
para
o
debate
sobre
o
lugar
das
pequenas
tradições
num
contexto
de
globalização
e
cultura
de
massa.
Esta
produção
vem se destacando
com
base
numa
aguda
consciência
da singularidade cultural do
nosso
país
e se opõe
abertamente
a uma
idéia
de
teatro
popular
que
fez
história
no Brasil a
partir
dos
anos
1960-1970.
Denise
Espírito
Santo é doutora
em
Teoria
Literária
pela UFRJ, professora
visitante
do
Instituto
de
Artes
da UERJ, professora de
Ensino
de
Arte
UBM, pesquisadora e diretora de
teatro.
Lírica e
sociedade: a
poesia de
Ferreira Gullar
Eleonora
Ziller Camenietzki (eleonoraziller@ceac.ufrj.br)
Este
trabalho
pretende
discutir
a
produção
poética
de
Ferreira
Gullar
durante
a
primeira
metade
da
década
de 1960 e a
sua
perspectiva
de
construção
da
Revolução
Brasileira,
ou
seja, de
um
projeto
de
libertação
nacional.
A
operação
mais
difícil,
tentada
por
Gullar, nesse
período,
é a de
compatibilizar
a
sua
criação
como
poeta
e a militância
partidária.
Durante
a
década
de 1980,
com
a redemocratização do
país,
a
crítica
avaliou essa
experiência
a
partir
de
conceitos
sociológicos
como
o
populismo,
que
migrou da
política
e se estendeu
por
todos
os
campos
de
saber,
tornando-se uma
espécie
de
chave
inquestionável
para
“entender”
o
período.
Pretende-se
rever
as
bases
na
qual
este
debate
foi proposto e
identificar
o
caráter
histórico
e circunstancial do
conceito
de
populismo
e de
sua
inadequada
aplicação
à
poesia
de
Ferreira
Gullar.
Eleonora Ziller
Camenietzki é doutora
em
Literatura
Comparada, vice-coordenadora do
Centro
de
Estudos
Afrânio Coutinho da UFRJ, inaugurado
em
março
de 2005 e professora
substituta
de
Literatura
Brasileira
nessa Unversidade.
Poema,
letra e
livro
Eucanaã Ferraz (correio@eucanaaferraz.com.br)
As
relações
entre o
poema e a
letra de
música,
entre esta e o
livro.
Letra e
poema pensados
como
peças do intertexto da
cultura.
O
convívio
no
espaço
do livro-antologia. Os
falsos
conflitos
e as
diferenças
essenciais.
Entretenimento
versus
institucionalização. As
diferenças
entre
os
suportes,
as especificidades estruturais dos
gêneros.
A
conciliação:
o
horizonte
das
linguagens
e a
utopia
do
conhecimento
como
prazer
e
aventura.
Duas
experiências
editoriais:
os
livros
Letra
só e
Veneno antimonotonia.
Eucanaã Ferraz é
professor
de
Literatura
Brasileira
na UFRJ.
Como
poeta
publicou
Martelo,
Desassombro
e
Rua
do
mundo. Organizou
Letra
Só,
seleção
de
letras
de Caetano Veloso,
Poesia
completa
e
prosa
de Vinicius de
Moraes e a
antologia
Veneno antimonotonia.
Com
Antonio Cicero, elaborou a
Nova
antologia
poética
de Vinicius de
Moraes.
"Letra
de
música
é
poesia?"
Francisco
Bosco (franciscobosco@terra.com.br)
O
objetivo
dessa
exposição
é
fundar
bases
teóricas
mais
pertinentes
para
se
pensar
a
canção
popular
e, notadamente, a
relação
entre
poema
e
letra
de
música.
Partindo do
desmonte
de
alguns
dos
enunciados
mais
freqüentes
pelos
quais
essa
relação
é trazida ao
debate
crítico
(sobretudo
estes:
"letra
de
música
é
poesia?",
e "a
letra
de
música
resiste no
papel,
desamparada da
música?"),
trata-se de
mostrar
a
pertinência
teórica
de
pensar
a
canção
como
totalidade
estética
indissociável.
É
ainda
objetivo
da
exposição
propor
uma possibilidade de
pensar
a
poesia
no
interior
da
canção,
o poético
como
uma determidade
característica
de algumas
letras:
a
poesia
como
o
excesso
da
letra,
seu
a
mais,
algo
que
ultrapassa a
canção
sem
sair
de
dentro
dessa.
Serão
indicadas
ainda
as
questões:
1) de
um
possível
esgotamento
histórico
da
forma
"canção"
(o
que
implica
primeiramente
definir
essa
forma)
e 2) da
canção
popular
no Brasil
tal
como
vem sendo pensada
por
José Miguel Wisnik,
isto
é,
como
sistema
híbrido,
complexo,
lugar
de
convergência
entre
tradição
literária
e
cultura
oral,
vanguarda
e
cultura
de
massas,
mercado
e
diferença.
Francisco Bosco é
escritor,
letrista
e
ensaísta.
É
autor
de Da
Amizade (7Letras,
2003),
entre
outros.
Doutorando
em
Teoria
Literária
pela
UFRJ e
professor
de
Teoria
Literária
da
Universidade
Estácio de Sá.
Tirando de
letra:
a
poesia
da
canção
brasileira
Fred
Góes (fredgoes@terra.com.br)
A
comunicação
busca
estabelecer
um
panorama
da
presença
da
crônica
no
texto
da MPB, observando
como
as
diferentes
modalidades
presentes
no
texto
literário
se espelham no
texto
da
canção.
Busca-se
também
perceber
como
o
Rio
de
Janeiro
é representado nesta
produção.
Fred Góes é
professor
doutor de
Teoria
Literária,
ensaísta,
compositor,
letrista, tem
nove
livros publicados. Desenvolve
junto
ao CNPq a
pesquisa
Carnaval
na
diligência
das
crônicas e lidera o
Grupo Interdisciplinar de
Estudos
Carnavalescos
da UFRJ. É
membro
do
Conselho
de
Cultura
do
Estado
do RJ.
A
noção
de
trabalho
em
Machado
de Assis
João Roberto
Maia
da
Cruz
(jrmcruz@uol.com.br)
Afrânio Coutinho afirmou a
ausência
de
trabalho
em
Machado
de Assis como
conseqüência
do "ódio
à
vida",
postura
machadiana
relevante
na
ótica
do
crítico.
Apesar
de
não
corroborar
a "negação
rancorosa
do
mundo",
em
Machado,
tampouco
certa
"espiritualização do
trabalho",
que
sustenta
o
ponto
de
vista
do
ensaísta
baiano,
Sérgio Buarque de Holanda considera "justa"
a
opinião
de Coutinho. Raymundo Faoro assinala,
por
sua
vez,
que
o enriquecimento das
personagens
machadianas é
normalmente
sinônimo
de "pôr-se ao
abrigo
do
trabalho".
Entretanto,
um
exame
mais
detido,
com
foco
na
trajetória
de algumas
personagens
dos
romances
e na
situação
nuclear
de
pelo
menos
dois
de
seus
contos
(O
caso da
vara
e
Pai
contra
mãe), pode
facultar,
sim,
a
percepção
de
que
a
questão
do
trabalho
em
Machado
tem
presença
considerável
como
problema
a
ser
estudado.
João Roberto
Maia,
doutor
em
Letras
Vernáculas
pela
UFRJ.
Em
2003 e 2004 foi recém-doutor no
setor de
Literatura
Brasileira
da UFF,
onde
atuou
como
professor
e
pesquisador,
desenvolvendo o
projeto
O
trabalho e
seus
resultados
em
Machado de Assis, Aluísio Azevedo e Graciliano
Ramos.
Entre
as publicações estão Eça de Queiroz e a
classe
operária (Revista
Vozes)
e
Dualidade
e
dialética: a
crítica de Antonio Candido e Roberto Schwarz
(Anais
da SBPC).
Ousar
Pensar o
Futuro: uma
análise da
obra
Desonra
de J. M. Coetzee
Licia Kelmer Paranhos (liciaparanhos@terra.com.br)
Apresentar
um
painel
da
obra
Desonra
de J.M. Coetzee a
partir
da
construção
narrativa
das
identidades
e subjetividades
diante
da
profunda
crise
de
representação
dos
valores
éticos
e
morais
no
contexto
da África do
Sul
na
era
pós-apartheid.
Licia Kelmer Paranhos é
mestre
em
Literatura Comparada
pela UFRJ e professora de
Ensino
Médio.
Ação e
narração:
em
cena,
Cidade de
Deus
Lívia Lemos
Duarte
(livia_duarte2004@yahoo.com.br)
O narrador de
Cidade
de
Deus,
romance de
Paulo Lins, posiciona-se de
maneira
tensa
em
relação
à
matéria
tratada:
por
um
lado,
não
se
mostra
distante
do
seu
assunto,
o
que
lhe
dá
condição
de
falar
sobre
isto
com
mais
naturalidade.
Por
outro,
esse
narrador
mostra
esforçar-se
por
ficar
distante
da
sua
temática,
o
que
lhe
confere a possibilidade de
apresentar
uma
problemática
social
sem
ser
simpático
e conivente a
ela.
No
filme
Cidade
de
Deus,
que é
baseado
no
romance
de Paulo Lins e dirigido
por
Fernando Meirelles, o
foco
narrativo
muda
de
perspectiva
e
passa
a
fazer
parte
do
discurso
de
um
dos
personagens.
O
objetivo
do
trabalho
é
analisar
as
diferenças
entre
o
ponto
de
vista
narrativo do
romance
e do
filme
Cidade
de
Deus, e
pensar
como
elas contribuem
para a
construção
crítica
da
linguagem
narrativa
tanto
do
romance
quanto
do
filme.
Lívia Lemos
Duarte é formada
em
Letras
pela
UERJ, professora
substituta
de
Língua
Espanhola nessa
Universidade
e
mestranda
em
Teoria
Literária
na UFRJ.
No
limite
da
cidade:
a
representação
da
realidade
no
documentário
Notícias
de uma
guerra
particular
e
em
Druglords,
sua
versão francesa
Luciane Said
(luolof@terra.com.br)
A
força argumentativa do
filme
Notícias
de uma
guerra
particular
(1999) emana da
estrutura
narrativa
ordenada,
lógica,
bem
desenvolvida
a
partir
da
montagem
paralela
de
imagens
filmadas in
loco,
de
imagens
de
arquivo,
de
imagens
aproveitadas de
um
videoclipe,
ou
de
um
filme,
ou
de
um
programa
de
televisão,
que
juntas
montam
um
painel
sobre
o
conflito
entre
a
polícia
e o
tráfico
de
drogas
nas
favelas
cariocas.
Nesta
estrutura,
as
imagens
são
menos
avalistas
do
que
se é
falado
e
mais
denunciantes.
Elas
mostram os “personagens”
em
situações
reveladoras, salientando
suas
reações
e a dos
outros
diante
deles. A
inteireza
da
cena
– alcançada
com
o
uso
do contracampo -, o
diálogo,
o
clima,
a
tensão,
o
drama,
o
conflito
são
retratados do
ponto
de
vista
do
objeto,
permitindo,
assim,
que
do
particular
se entenda o
universal.
Na
versão francesa do
documentário,
Druglords, a
estrutura
narrativa
ordenada,
lógica é abandonada e,
em
seu
lugar,
aparece uma
estrutura
caótica
desenvolvida
paralelamente
com
uma
nova
montagem.
Nesta, a
apropriação
do
material
e a
utilização
manipulada das
imagens
aliadas à
inserção
da
locução
e da
música
incidental,
denunciam
um
não
compromisso
com
o “real”
e uma
total
submissão
ao
imaginário
estereotipado.
Imaginário
este
que
sabe
como
o “outro”
deve
ser
representado.
Com
isso,
a
nova
versão
procura
dar
visibilidade
a
violência
em
oposição
à delineação do
problema
tentada
por
João Moreira Salles.
Assim,
ao
telespectador
francês,
em
sua
posição
de “testemunho”,
é mostrado uma
nova
versão
do
conflito
como
se fosse o “real”
e,
em
seguida,
apresentada uma
solução.
O
perigoso é
que esta
nova
estrutura
narrativa desordenada e
caótica
formará uma
matriz
que
possivelmente será reprisada muitas
vezes,
formando,
assim,
uma
nova
verdade
(memória)
sobre
a
realidade
da
violência
e do
tráfico
de
drogas
no
Rio
de
Janeiro.
Luciane Said
é formada
em
Jornalismo
pela
Pontifícia
Universidade
Católica
do
Rio
de
Janeiro
(PUC-RJ).
Atualmente,
cursa
o
mestrado
em
Literatura
Comparada da UFRJ.
Como
roteirista,
participa de
documentários
e de curtas-metragem.
Antonio Candido
para
iniciantes
Luis Alberto Alves (laalves@uol.com.br)
O
que
pode
ser
dito
a
um
aluno
do
curso
de
Letras,
iniciante
em
matéria
de
crítica
literária,
que
não
leu Antonio Candido,
mas
já
cansou de
ouvir
que
o
autor
de
Formação
da
literatura
brasileira
faz
crítica
sociológica (e
não
estética),
seqüestrou o
barroco
e
seu
método
está “datado”?
O
propósito
do
trabalho
é
mostrar
os
principais
momentos
da
trajetória
do
intelectual
que
reconstruiu a
tradição
literária
brasileira
a
partir
da
noção
de
sistema
literário,
contribuindo
também
para
a
constituição
da
crítica
de
esquerda
no Brasil.
Luis Alberto Alves é
professor
de
Fundamentos
da
Cultura
Literária
Brasileira
e do
programa
de
pós-graduação
em
Ciência
da
Literatura.
Uma
análise
semiológica do
texto da China, na
geopolítica do
século XXI, a
partir dos
romances
Bombons
chineses e O
complexo
de D.
Maria Luiza
Franco
Busse (mariabusse@yahoo.com.br)
A China é
um
país
no
qual
seus
intelectuais
têm
presente
a
questão
entre
tradição
e modernidade. Essa
problemática
é
marcante
no
século
XIX, do
mesmo
modo
atravessa o
século
XX e
assim
chega
aos
dias
de
hoje.
Trato
por
intelectual
todo
fazer
e
pensar
crítico
conforme
a
distinção
estabelecida
por
Jean-Paul Sartre, no
livro
Em
defesa
dos
intelectuais,
entre
um
cientista e
um
cientista
intelectual.
Segundo Sartre,
cientista é
quem faz a
bomba atômica e
cientista
intelectual
é
aquele
que
pergunta
para
quê?
Bombons
chineses e O
complexo
de Di
são
romances de
dois
autores
contemporâneos,
respectivamente,
Mian Mian e Dai Sijie,
que
têm
como
perspectiva
as transformações
que
vêm ocorrendo na China.
Seus
textos
podem
ser
associados
à
linhagem
que
discute as
relações
entre
tradição
e modernidade num
país
que,
por
apenas
um
breve
período
de
sua
história
de
mais
de
cinco
mil
anos,
de 1949 a 1979,
não
sofreu
invasões
e ficou fechado
em
si
mesmo
forjando uma
alternativa
própria
para
realizar
as mudanças consideradas necessárias.
Ambos os
romances se inscrevem na
linha
Literatura
e
Sociedade
na
medida
em
que
atam os
laços
entre
a
vida
e a
arte.
Bombons
chineses, de Mian Mian, é o
romance
sobre
uma
geração
de
jovens
chineses da
década
de 1990 do
século
XX,
lançada
em
meio
às transformações econômicas iniciadas
por
Deng Xiaoping,
com
o
objetivo
de
promover
o
salto
desenvolvimentista e
exposta
às
conseqüências
advindas do
choque
provocado
entre
a modernidade e a
tradição.
Em
O
complexo
de Di, de Dai Sijie, a
história
ambientada na China do
ano
de 2001 envolve Muo, quarentão chinês,
que
foi
estudar
psicanálise
na França e
volta
à
sua
terra
para
tirar
da
cadeia
seu
amor
de
juventude,
Vulcão
da
Velha
Lua,
presa
por
divulgar
fotos
consideradas politicamente
ofensivas
ao
país.
O
adversário
de Muo na
empreitada
é o
velho
e
corrupto
juiz
Di,
encarregado
do
caso,
que
condiciona a
libertação
ao
pagamento
na
forma
de uma
moça
donzela
virgem,
que,
conforme
a
tradição,
é
fonte
de
virilidade
e
energia
para
quem
se deita
com
ela.
Maria Luiza
Franco Busse é
jornalista,
mestre e
doutoranda
em
Semiologia
pela UFRJ, faz
tese
sobre a China. É autora dos
livros
Texto
sem
conforto e
Ensaio
sobre a
pergunta.
Do
falatório
ao
silêncio
– o
desenvolvimento da
escrita dramatúrgica de Anton Tchekhov
Mariana
da Silva
Lima (marisilvalima@yahoo.com.br)
O
ensaio
compara a
primeira
e a
última
peças
de Anton Tchekhov (Platonov e
O
Jardim
das
Cerejeiras), observando as transformações
que
levaram à
criação
de uma
dramaturgia
inovadora. Partindo de uma
peça
excessivamente
verborrágica, o
autor
desenvolve
um
teatro
em
que
vale
mais
o não-dito,
por
meio
de
um
processo
de depuração dramatúrgica e de
corte de
excessos.
Ao
mesmo
tempo,
é
possível
perceber,
desde
sua
primeira
peça,
elementos
que
seriam
característicos
da
dramaturgia
tchekhoviana,
como
o
peso
do
presente.
No
entanto,
o
processo
de desintegração da
sociedade
é
visto
não
mais
a
partir
de uma
perspectiva
individual
e
sim
uma
visão
coletiva.
Mariana
da Silva
Lima
é graduada
em
Teoria
do
Teatro
pela
UNIRIO e
mestranda
em
Ciência
da
Literatura
pela
UFRJ.
Literatura e
sociedade no Brasil: o
teatro de Alcione Araújo
Myrian
Naves
(myrnave@brfree.com.br)
O
teatro
de Alcione Araújo, do
ponto
de
vista
histórico,
se insere no
período
que
vai da
luta
armada,
passa
pelo
anúncio
de uma
abertura
democrática
e
chega
aos
nossos
dias.
Enfoca
sempre
o
homem
brasileiro,
suas
idéias
e
ideologias
que
trazidas
para
o
cotidiano,
são
postas
em
xeque
diante
das
circunstâncias
sociais
a
que
esse
homem
é submetido.
A
comunicação
pretende
então
analisar
duas de
suas
peças,
Muitos
anos de
vida
(1984) e
Deixa
que
eu
te
ame (2004) no
âmbito
do
que
há de
concreto
e de
universal
nas
relações
homem-mulher e no
que
há de
abstrato
na
psicologia
humana.
As duas
peças
exprimem
contradições
e
violências
nesse
confronto
entre
escolhas
pessoais,
profissionais,
éticas
e respectivas
visões
inconciliáveis.
Alcione Araújo é
um
representante do chamado
teatro
do
cotidiano.
Isso
porque
sua
obra
reflete a
história
do
homem
comum
frente
aos
dilemas
de
sua
época,
com
um
instrumental
eficiente
que
extrai desse
cotidiano
de mudanças
cada
vez
mais
rápidas e contraditórias,
um
sentido
global
de
coerência.
Myrian
Naves é graduada
em
Letras
pela PUC-MG, é professora do CAP-UFRJ e
mestranda
em
Literatura
Comparada da UFRJ.
Linha
de
Pesquisa:
construção
crítica
da modernidade.
Leituras
periféricas: José Saramago
Renato Alves Barrozo (raiana@uol.com.br)
Tentamos
caracterizar
um
leitor
típico dos
últimos
romances
contemporâneos
de José Saramago,
sob
o
ponto
de
vista
de
um
sistema
capitalista
mundial. A
análise
desses
romances
prioriza uma
crítica
dialética
entre
a
literatura
e a
sociedade
- mediação
entre
forma
estética
e
forma
social
-
que
implica uma
percepção
maior
da
sociedade
em
que
vivemos. A
literatura
é percebida,
então,
como
um
instrumento
para
melhor
compreender
a
sufocante
e empobrecedora
realidade.
Assim,
os
romances
de Saramago (Ensaio
sobre
a
cegueira,
Todos
os
nomes,
A
caverna,
O
homem
duplicado e
Ensaio
sobre a
lucidez)
denunciam a
surpreendente
e alienante
vida
pós-moderna. O
resultado
é a
configuração
de
um
leitor
da
periferia
do
capital.
São
leituras
periféricas,
portanto,
a
partir
da
crise
global
do
capitalismo
avançado. Fundamentamos
essa
empreitada
na teoria de
Immanuel Wallerstein, Eric Hobsbawm e na
crítica de Antonio Candido.
Renato Alves Barrozo defende
tese
de
doutorado
na UFRJ
Leituras
periféricas:
em
busca
de
um
leitor
de José Saramago.
É
mestre
pela
UERJ.
Pesquisa
a
formação
de
leitor
na
periferia
do
capitalismo
com
artigos
em
revistas
especializadas na UERJ e UFRJ.
Literatura,
violência
urbana
e
cinema
Ricardo
Pinto
(rcrd@ig.com.br)
Retomaremos,
em
nossa
comunicação, a
discussão
presente no
livro
Sertão:
mar,
de Ismail Xavier,
qual
seja a
necessidade
de uma
forma
artística
complexa
que
vá
além
de
um
realismo
estrito
para
representar
adequadamente
um
processo
social
e
histórico,
o
que
é uma
questão
determinante
para
a
importância
de Glauber
Rocha,
na
história
do
cinema,
dado
que
o
diretor
estabeleceu esta
responsabilidade
formal
como
um
projeto.
Interessa-nos, especificamente,
começar
a
discutir
até
que
ponto
este
projeto
possui
ainda
algum
vigor
na
produção
cinematográfica
atual.
O
estudo
do
filme
Barravento,
longa
metragem
sobre uma
comunidade de
pescadores,
é
bastante
produtivo
devido
a
sua
proximidade
temática
com
dois
longas
recentes,
o
filme
Cidade
de
Deus (Fernando Meirelles, 2002) e De
Passagem
(Ricardo Elias, 2003).
Nossa
reflexão
acontecerá
por
meio
de
dois
eixos:
primeiro,
os
problemas
e os
limites
de
representar
uma
comunidade,
especialmente
o
perigo
de
trair
a
dinâmica
desta
comunidade,
na transposição de
seus
dilemas
e
conflitos,
para
uma
forma
artística;
segundo,
a
importância
da
alegoria,
retomando
aqui
uma
série
de insights e de
conclusões de Walter Benjamin
em
Origem
do
drama
barroco
alemão. A
composição alegórica é uma
técnica
utilizada
em
praticamente
toda
a
obra
de Glauber,
mas
presente
de
forma
fraca
nas
obras
atuais.
É
para
entender
este
abandono
da
alegoria
que
se
torna
importante
voltarmos
nosso
olhar
para
a
produção
literária
atual,
já
que
em
obras
de
autores
como
Paulo Lins
ou
Luiz Ruffato a
composição
alegórica é
um
recurso
largamente
utilizado. Nesta
distância
entre
literatura
e
cinema
atuais
reside
também
a
distância
entre
distintos
projetos
de
crítica
e
leitura
do
real.
Ricardo
Pinto é
doutorando
em
Literatura Comparada
pela UFRJ. É
também
professor,
escritor,
editor
da
revista
eletrônica
Confraria (www.confrariadovento.com)
e sócio da editora Confraria do Vento. Sua pesquisa é sobre a relação entre
violência e cultura.
Entre
cascudos
&
promessas:
a
construção
da
sociedade
civil
na
República
de
Machado
Rogério
Britto
(rogerbritto@pop.com.br)
O
interesse
em
Esaú e Jacó e
Memorial de Aires
reside
em
mostrar
como
Machado
utilizou o
potencial
explicativo
do
material
histórico
que,
dentro
do
plano
ficcional, pôde
trazer
à
tona
argumentos
capazes
de
delinear
problemas
que,
face
as
evidências
em
suas
diversas e contraditórias
esferas,
já
pareciam naturalizados.
Reler
Esaú e Jacó e
Memorial de Aires
não
visa
a
buscar
soluções
mágicas
ou
estereótipos
benevolentes,
para
encobrir
a
condição
degradada
em
que
se encontrava a
sociedade
civil
do
final
do
século
XIX e
início
do XX. Trata-se de — neste
momento
de
extrema
"escassez
simbólica"—
tentar
compreender,
sem
negatividade
ou
condescendência,
essa
sociedade
civil
um
tanto
quanto
torta,
frágil,
equivocada e
débil
que
se configurou a
partir
do
momento
em
que
o
projeto
escravocrata
havia
ruído
por
completo
e a
passagem
da Monarquia à
República
não
representou a
inserção
da
maioria
da
população
num
projeto
com
cara
de Brasil.
Rogério Britto é
mestre
e
doutor
em
Teoria
Literária
pela
Universidade
Federal
do
Rio
de
Janeiro
— UFRJ. É
professor
universitário
e
autor
de
diversos
artigos
sobre
Machado
de Assis,
cidade
e modernidade,
entre
eles
A modernidade
tardia e o
retorno da
utopia:
ou
um
olhar
sobre a
cidade e
imagens da
sociedade
civil
machadiana.
Entre
a
cidade
e o
campo:
Mário de Andrade e a
música
popular
Valdemar
Valente Junior (valentejr@msm.com.br)
Entre
a
cidade
e o
campo:
Mário de Andrade e a
música
popular
é
uma
tese
de
doutorado,
que
trabalha
com
aspectos
da
cultura
musical
brasileira
e
com
sua
consolidação
no
século
XX. A
configuração
de
música
que
tem
sua
origem
no
encontro
de
elementos
da
tradição
européia
com
a
cultura
africana
tem
como
espaço
de
atuação
o
Rio
de
Janeiro,
evento
que
se consolida
com
a
abolição
do
trabalho
escravo
e a proclamação do
regime
republicano. Do
outro
lado
da
questão,
insere-se a
pesquisa
de Mário de Andrade
sobre
os
temas
da
música
folclórica
e
rural
distanciada da musica
urbana
por
sua
originalidade
e desvinculada do
sentido
comercial
conferido
pelo
rádio
e
pelo
disco.
Nessa
contraposição
de
idéias,
reside o
núcleo
do
debate
que
pretendemos
promover.
Valdemar
Valente Junior é
doutor
em
Ciência da
Literatura
pela UFRJ,
onde defendeu a
tese
Entre a
cidade e o
campo: Mário de Andrade e a
música
popular.
Professor
de
Literatura
Brasileira
e Portuguesa da UniverCidade e
Universidade
Castelo
Branco.
Atualmente,
dedica-se à
pesquisa
em
música
popular.
A
crítica
da modernização uruguaia na
obra
de Juan Carlos Onetti
Víctor Manuel
Ramos
Lemus (victormlemus@terra.com.br)
O
escritor
uruguaio
Juan Carlos Onetti (1908 – 1994) pertenceu à
chamada
Generación
Crítica,
Generación del 45
ou
Generación de “Marcha” (semanário de
esquerda
fundado
por
Carlos Quijano,
que
teve Onetti
como
um
dos
seus
diretores).
Sua
obra
constrói uma
crítica
às
conseqüências
trazidas
pelo
processo
de modernização do
seu
país.
O Uruguai,
até
então
dominado
pelo
ideário da Generación del Centenario, vivia o
sonho
eufórico
de
ser
a materialização de uma modernização
bem
sucedida
com
a
suposta
vitória
da
civilização
contra a
barbárie.
A
obra
de Juan Carlos Onetti constitui uma
tomada
de
posição
perante
esse
ufanismo.
Víctor Manuel
Ramos Lemus é
licenciado
em
Lengua y
Literatura Hispánicas
pela
UNAM – México. É
mestre
e
doutor
em
Teoria
Literária
na UFRJ.
Atualmente,
cursa
o
doutorado
em
Literatura
Hispano-americana
na UFRJ e é
professor
adjunto
de
Língua
e
Literatura
Espanhola nessa
Universidade.
Quase
dois
irmãos:
termos
de uma
derrota
Wellington
Augusto
da Silva
O
trabalho
apresentado é uma
análise
do
filme
Quase
dois
irmãos,
dirigido
por
Lucia Murat e lançado no
circuito
brasileiro
em
2005. O
filme
narra,
em
cenas
retrospectivas,
três
épocas
decisivas da
história
da
amizade
de
dois
amigos,
da
infância
até
a
maturidade.
Dadas as
contingências
impostas, é
discrepante
o
rumo
das
vidas
de Miguel, ex-guerrilheiro e
atual
deputado
e Jorginho,
filho
de
sambista,
morador de
favela
e
atual
chefe
do
tráfico
de
drogas
no
Rio
de
Janeiro.
Em
um
ritmo
acelerado, a
narrativa
focaliza o
contato
entre
as
classes
sociais
brasileiras ao
longo
da
segunda
metade
do
século
passado,
nos
momentos
de
encontro
das
vidas
dos
personagens.
Assim,
Miguel e Jorginho encarnam,
respectivamente,
a
pequena
burguesia
e as
classes
populares.
A
combinação
histórica
anunciada, no
longa
metragem,
sugere ao
espectador,
de
modo
recortado, as transformações operadas
pela
dinâmica
social
recente
brasileira.
São
trabalhados nessa
análise
os
temas
que
compõem as
importantes
etapas
da
história
recente
das
relações
sociais:
o
samba,
a
guerrilha
contra
a
ditadura
militar,
o
tráfico
de
drogas
e a
explosão
da
violência
urbana
pela
ordem
histórica.
O
estudo
pretende
mostrar,
sob
o
signo
da
derrota,
os
termos
relevantes
na
formação
social
brasileira:
a possibilidade abortada de
crescente
democratização da
sociedade
e as
conseqüências
dos
sucessivos
anos
de
ditadura.
Nesta
fórmula,
é observada uma das
explicações
para
atual
configuração
das
relações
entre
as
classes
brasileiras.
Wellington
Augusto
da Silva é
bacharel
e licenciando
em
Letras
pela
UFRJ.
Professor
de
Redação
do
Programa
de
Extensão
da UFRJ – CPV-Caju.
Tutor
presencial de
Língua
Portuguesa na
Educação
do Cederj.
Mestrando
em
Teoria
Literária
da UFRJ.
|